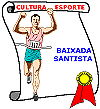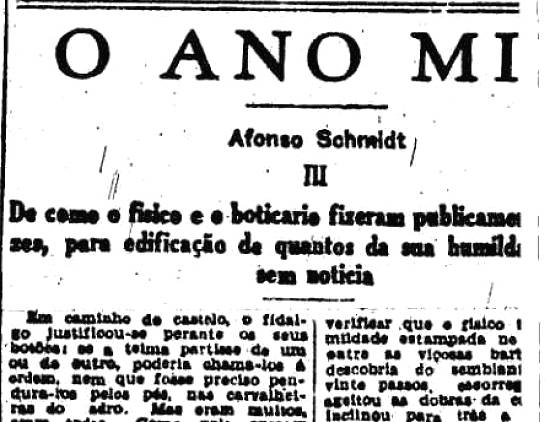|

Imagem: reprodução parcial da pagina 3 da edição de
19/11/1944 com o texto
I
Uma lembrança angustiosa da Idade Média - O burgo onde Judas perdeu as botas
O ano da graça de 999 foi de apreensões e sustos para quase toda a Europa. Havia tempo que homens
graves, de samarra cor de folha seca e chapéu redondo, de abas reviradas, reuniam à volta de si a gentalha das feiras e anunciavam:
- Ao bater a meia noite de São Silvestre, ao entrar o ano 1000, o mundo acabará. Colunas de fogo
descerão do céu. As águas ferverão. Os terremotos não deixarão pedra sobre pedra, nem coisa que se pareça com ser vivente na face da terra. Os anjos
do Senhor soprarão nas suas compridas trombetas de ouro e os mortos serão conclamados para o Juízo Final.
A princípio, essas ameaças só conseguiram amedrontar a uns poucos. Ouvindo-as, os mercadores
fitavam os olhos do espaço, a considerar nos gatos que tinham impingido por lebres, nas pragas dos pobres diabos de seus fregueses a quem
escorchavam, tirando couro e cabelo, e nos bródios de que compartilhavam, às escondidas, nos dias de rigoroso jejum. Mas - que diacho! - o fim do
mundo só poderia dar-se dali a muitos meses e, enquanto a hora trágica não chegava, continuaram a viver de acordo com a sua norma: fé em Deus e unha
no próximo.
Quando a gente de algo ouvia falar em tais profecias, dava de ombro e mudava de assunto. Mas a
atoarda foi crescendo. Subiu dos truões aos artífices, dos meirinhos aos ricos-homens. E continuou a alargar-se por feiras e albergarias. Certa vez,
um peregrino que trazia nas sandálias a poeira do Latium (N. E.:
Lácio, região da Itália onde se situa Roma, e local de origem dos idiomas latinos),
pediu agasalho ao senhor da Azenha.
O solar ficava a cavaleiro da povoação, num outeiro riscado de caminhos, ladeiras, becos, escadas,
escadinhas e azinhagas. Estrigão, que era o factótum do fidalgo, deu-lhe enxerga, pelego, bilha e broa de centeio. À noite, diante do fogaréu que
ardia na esplanada, o peregrino se pôs a repetir a profecia, para susto dos homens de armas que o cercavam.
Quis o destino que por ali passasse o castelão e ouvisse a arenga do pé-rapado. Foi como se lhe
dessem um repelão. Estacou diante dos conversadores, abriu uma bocarra negra, cheia de pragas, e entrou de gritar:
- Fim do mundo? Vou acabar com essa patranha enquanto é tempo! Se alguém falar mais uma vez em fim
do mundo nos meus domínios, mando-o pendurar, de cabeça para baixo, nas correntes da ponte levadiça. Estais ouvindo?
E lá se foi a bufar de cólera. Os conversadores, adivinha-se, afocinharam na sombra. Todos eles,
menos um, que era pequeno, magro, esperto e usava barrete tripartido, com um guizo a pular e a tinir na ponta de cada bico. Era Rabanete, o bobo do
castelo. AO ouvir as ameaças assustadoras do amo, botou as mãozinhas nas ilhargas e rinchavelhou como um onagro. Depois, correu na direção do amo,
arremedando-o no andar e nos ademanes. E ninguém mais, desde aquele momento, voltou a falar no mofino assunto.
Mas, para falar verdade, a bravata do castelão pouco adiantou. Em suas andanças pelo burgo, o
senhor da azenha observou que homens e mulheres, conversando sob as arcarias de pedra dos becos, ao vê-lo aproximar-se, calavam-se ou passavam a
tratar de coisas comezinhas. Não o enganavam, porém.
Taciturno, voltava ao solar. Mas ali também reinava um silêncio turvo, inchado de apreensões. Na
esplanada, os homens de armas formavam roda e discutiam a meia voz. Rabanete, a mandado do amo, imiscuía-se nessas reuniões, mas era como se fosse
mouco de nascença; não espiolhava notícia que se aproveitasse. Dama Cereja, a castelã, e suas sete aias, que tinham nomes de flores, passavam horas
esquecidas na capela, ouvindo as palavras graves e tristes de frei Ciborio, um frade redondinho que parecia feito de fieiras de roscas. Augurava
ele:
- Quando chegar esse bendito dia...
Dama Cereja ajuntava, com a mesma unção:
- ... o mundo cheirará a torresmos.
E as sete jovens punham-se a lastimar-se, arrancando punhados de cabelos como as carpideiras.
Este quadro ainda mais enfurecia ao senhor da Azenha. Em toda a região, segundo parecia, era ele o
único filho de Deus que não se deixava embair. E os dias foram passando. O ano tão temido de 999 teve início. O fidalgo subiu à torre e, lá de cima,
passeou pelas muralhas denteadas, contemplou as redondezas. Neve, só neve. De onde em onde, emergiam do lençol alvadio torres de igrejas, cadáveres
calcinados de velhas árvores, comeeiras de casas e manchas escuras de vinhas mortas.
Ninguém saía à rua. Os artesãos diante do tear, da banca de sapateiro, ou do banco de carpinteiro,
trabalhavam frouxamente; camponeses dormiam dentro de vastos fogões, para aproveitar o calor do borralho. Havia também os que traziam as vacas para
dentro da casa, como se fossem aquecedores. E, nessa contemplação melancólica, quando o fidalgo via um penacho de fumo a altear-se sobre um casebre,
sentia-se roubado:
- Ai que me derribam os bosques!
Rabanete, que era a sua sombra e andava sempre a pisar-lhe os calcanhares, dava saltos de alegria,
fazendo tilintar os três guizos nas três pontas do barrete.
Chegou fevereiro, varrido pelos ventos. No céu, pasciam enormes rebanhos de nuvens escuras que um
agulhão enxotava para lá das serras. O castelão esquecia-se tardes inteiras a passear pela muralha que mediava entre as duas torres quadradas,
cobertas de telhas chatas. O vento uivava nas rexas (N. E.: rexas ou reixas são pequenas tábuas
como as que formam grades de janelas ou gelosias). Quando o fidalgo passava diante das seteiras
abertas sobre o vale, a lufada tomava-lhe o manto e atirava-o para o céu, num torvelinho de alvuras. Ele praguejava, consertava as dobras do manto
com dedos roxos, mas prosseguia no caminho. Dali a pouco, nova lufada, novo repelão na véstia, nova saraivada de pragas. E Rabanete, vendo o amo de
má sombra, procurava engolir a língua para que ela não publicasse as bufonadas que lhe iam pela alma...
Março chegou. As comemorações da Paixão tomaram relevo impressionante. Lá do alto da galeria, entre
as torres, o castelão passava horas inteiras a ouvir a lamentação dos ventos, o ir e vir das gentes, com os estandartes de cores vivas, as tochas
fumarentas. Pelas Trindades, ele, a esposa, as açafatas, o jogral e os homens de armas desceram a encosta, atravessaram o burgo e entraram no Pátio
das Mercês, onde se encontrava a igreja. Reinava silêncio de morte. A população ali reunida parecia transformada em pedra. Os sinos já se haviam
calado. Quando se atentava o ouvido, só se percebia o tique-taque do maquinismo do relógio da torre, ou o voo dos morcegos, perdidos na cinza do
escurecer.
Rabanete ia à frente, dando pontapés a torto e a direito. Atrás dele seguia o senhor da Azenha,
Dama Cereja, as sete donzelas e a castelã. Iam vestidas de negro, adornadas com fitas esvoaçantes. Entraram na igreja, dirigiram-se aos
genuflexórios, nas vizinhanças do altar, e se acomodaram sobre almofadas de pena. Mas aquela noite não se parecia com as dos anos anteriores. A nave
estava paramentada de roxo, as imagens cobertas, as lâmpadas imóveis. De quando em quando, um choro comprido e lastimoso erguia-se da sombra. Então
o fidalgo interrompia o terço, marcava com a unha a camaldula (N. E.: o mesmo que camândula, um
rosário grosso comum de que os hipócritas faziam ostentação, segundo o
Diccionario da Lingua Portugueza composto no Rio de Janeiro por Antonio de Moraes Silva, ampliada e ordenada por Theotonio José de Oliveira
Velho em sua 4ª edição, tomo I, pág. 322, impresso em Lisboa em 1831) de um Pater
distraído, e voltava para aquela banda os olhos de falcão. Queria inteirar-se do desobediente, do birbante que se atrevia a manifestar temor pelo
fim do mundo...
- Cá me palpitava que eram elas!
Lá em baixo, coladas à parede úmida, lobrigou a Broa do padeiro e a Troncha do hortelão; as duas
mulheres estavam ajoelhadas, em arco, o cabelo caído para a frente, a boca retorcida numa angústia. E choravam, humildemente, como crianças.
Retomando o fio da oração, o fidalgo prometeu a si mesmo que, no dia seguinte, se Deus quisesse, faria castigar as duas mulherinhas, por teimosia e
relaxação.
Finda a visita à igreja, regressaram ao castelo. Fizeram o caminho à luz aflita das tochas. Por
onde passavam, pátios, ladeiras, becos e azinhagas, ouviam o queixume dos vilões (N. E.: na
Idade média, eram pessoas não pertencentes à nobreza, habitantes de vilas, donde a palavra vilão. Por não terem a confiança dos camponeses, o
termo foi ganhando aos poucos o moderno sentido pejorativo), temerosos do fim do mundo, a
arrepelarem-se de susto.

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
22/11/1944 com o texto
II
Onde ricos homens e vilões se preparam para a anunciada reunião no vale de Josafá
Como se conclui do que ficou exposto no capítulo anterior, foi com certa inquietação que o castelão da Azenha viu chegar o mês de abril. Apesar
disso, aquele abril era um abril como os que mais o fossem. Começou por gloriosas manhãs azuis, depois um vento cálido, impregnado de resinas,
entrou pelas seteiras do solar e comunicou uma alegria boba a quantos ali se encontravam.
Dama Cereja surpreendeu-se a sorrir diante da lâmina que lhe servia de espelho, mas, caindo em si, persignou-se. As sete açafatas, que tinham
nomes de flores, ficaram com cara de maçã, o colo inquieto e um brilho de festa nos olhos cor de uva. O próprio castelão andou pelos cantos a
repetir baixinho, entre dentes, umas frases bonitas, sem nexo, que cheiravam a endechas esquecidas.
A neve acumulada durante o inverno desfez-se em água. As auras transformaram-se em córregos. Dos barrancos despenharam-se pequenas cascatas em
cujas cordas de cristal o sol acendia fogos de vista.
Mas a alegria do castelão, naqueles medievos dias de 999, durou pouco. Na semana seguinte, andando ele pelas barbacãs, na contemplação do vale
subjacente, observou que apenas as velhas árvores, os bosques distantes e as ervas vadias da estrada reverdeciam. O chão começava a aparecer por
toda parte, seco e áspero, como abandonado. Faltava-lhe o encanto da verdura, o desenho quadriculado das plantações, aquela colcha de retalhos das
terras produtivas.
A vestidura do chão começou a alastrar-se tão rala e desigual que o fidalgo, voltando-se para trás, viu a figura do truão a chupar o dedo e, em
falta de melhor informante, perguntou-lhe:
- O trigo está tardando este ano?
- Que trigo, compadre?
- O das plantações...
Rabanete olhou para o céu e, arremedando a voz pedregosa de Estrigão, factótum do fidalgo:
- Para quê plantar?
O senhor da Azenha não se conteve e começou a dar urros. Depois, desceu à esplanada, atravessou a ponte e meteu pelo caminho que descia a
encosta. Rabanete seguiu-o. O fidalgo ia tirar a limpo aquela história. O pior é que os foreiros não lhe vinham trazer os dobrões,nem as medidas de
cereal. Esperara um, dois, três dias, nada. Ia, pois, à sua procura, primeiro para ameaçá-los e depois, se não fosse atendido, para puni-los.
Caminhando para o pátio das Mercês, que era o centro do burgo, teve motivos de sobra para encolerizar-se. Os bois retouçavam na erva que ia
apontando entre as pedras do calçamento. Rebanhos sem pastores espalhavam-se pela encosta; as ovelhas estavam abandonada,s com a lã encardida e
empelotada de nós. Os cães de guarda dormiam ao sol. Deu um pontapé no molosso mais próximo; ele abriu os olhos, grunhiu e voltou a dormir.
Chegando à fonte, viu que as cabras da Bitabita saltavam pela muralha, entre as cantarinhas esquecidas. Dobrou o Beco do Figo e entrou num
casebre que tresandava a curral. O foreiro chamava-se Gato. Ao entrar, o fidalgo esperava encontrar gente miserável, a tremer de susto pela visita.
Mas não foi isso que viu. A porta e a janela não tinham mais folhas; deviam ter sido queimadas nas noites do inverno. A horta tomada pelo escalracho.
Os pombos aflitos, gemendo lastimosamente sobre o teto.
Mas a família Gato parecia não se incomodar com isso. O Gato, a Gata e o Gatinho estavam sentados à mesa e, lambendo dedos compridos e amarelos,
comiam um ragu de borrachos. Como se isso não bastasse, deliciavam-se com padas de pão branco e bojudas canecas de estanho, transbordantes de vinho
cor de topázio...
Ao ver aquilo, o fidalgo ficou escarlate.
- Celerados! Banqueteiam-se! Pois eu cá vi para cobrar-lhes os meus pintos!
- É pena, meu senhor. Não temos vintém.
- Porquê?
- Não estou plantando, nem colhendo.
- E se trata assim, como um príncipe?
- Para que guardar? O Juízo Final vem aí!
O senhor da Azenha quase estourou de raiva.
- Mando-os encarcerar a todos, ouviram?
- Por quanto tempo?
- Pela vida inteira.
Ao ouvir aquilo, os comensais puseram-se a rir, funebremente. A mulher foi a primeira a engolir o naco de broa, por isso foi ela quem falou:
- Ora, meu senhor, a vida inteira não irá para lá do São Silvestre!
O castelão, para não espancá-los, preferiu retirar-se. Fê-lo, porém, de má sombra. Rabanete, pisando-lhe na treita, não se atreveu a mostrar-se
numa das suas facécias.
Ao passarem pela escadinha do Outeiro, onde as casas se apoiavam umas nas outras, entraram por larga e escura porta. Dentro, havia mesas e
bancos. Era a bodega do Raposo, estabelecimento que se fizera notar entre gentis-homens e vilões pelo vinho maduro da pipa e quartos de carneiro
entrouxados com lardo.
Outrora, quando o castelão por ali aparecia, era honra e por isso havia festa. O Raposo, a Raposa e os Raposinhos punham-se a chiar e a correr de
um lado para outro, na ânsia de melhor servi-lo. Mas daquela vez não aconteceu o mesmo. O madraço do taverneiro estava deitado de bruços, ao pé da
malga desbeiçada, e ressonava como um fole. Os filhos procuravam cavalgá-lo e riam. A mulher, a um canto da casa, sentada no chão, esbrogava as
camáldulas de um terço. Ninguém deu conta da entrada do fidalgo e de sua sombra. Foi preciso que ele, fora de si, desse uma punhada na mesa, fazendo
saltar vasilhas de estanho...
- Aviem-se! Tragam-me de beber!
A Raposa levantou os olhos do terço, reconheceu o intruso mas, sem conceder-lhe a atenção dos outros dias, limitou-se a responder-lhe:
- Pois beba que baste, nós não pretendemos levar o vinho para o vale de Josafá.
Rezou mais uma Ave e, fazendo-se conciliadora, acrescentou.
- A pipa está no canto, o pichel na cantoneira.
Só então o fidalgo observou que da torneira mal fechada escorria um fio negro que empoçava no chão e, depois, como serpe, transpunha a porta e
ganhava os três degraus de pedra que desciam para a rua. O recinto tresandava loucamente a uvas pisadas.
- Já não chatinais com a mercadoria?
- Para quê? O que é do mundo que se fique com o mundo...
Aquela teima dava-lhe engulhos. Sentiu cócegas de pegar do relho e alertar todo o burgo. Mas Rabanete ali estava, para desinchar-lhe o fígado. O
jogral correu para a pipa, deitou-se de bruços e sorveu, ruidosamente, o vinho empoçado. Para que nada se perdesse, pôs as mãos em concha, tomou do
chão o lodo sanguíneo e com ele besuntou a cara. Depois fez trejeitos, como se estivesse de máscara. Os guizos cantaram nas pontas do barrete.
Ao ver aquilo, o fidalgo recobrou o bom humor, botou as mãos na barriga, escancarou a bocarra negra e, por algum tempo, tossiu como cão
engasgado. Era assim que ele ria...
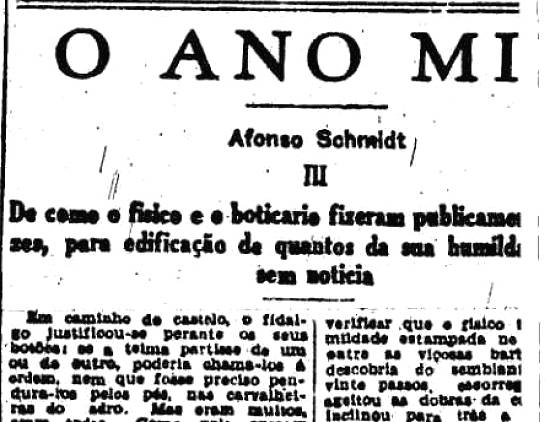
Imagem: reprodução parcial da pagina 6 da edição de
23/11/1944 com o texto
III
De como o físico e o boticário fizeram publicamente as pazes, para edificação de quantos da
sua humildade tivessem notícia
Em caminho do castelo, o fidalgo justificou-se perante os seus botões; se a teima partisse de um ou de outro, poderia chamá-los à ordem, nem que
fosse preciso pendurá-los pelos pés, nas carvalheiras do adro. Mas eram muitos, eram todos. Como, pois, exercer os seus direitos de baraço e cutelo?
Engolfado em tais pensamentos, lá ia ele a saltar de pedra em pedra, rumo do castelo. Rabanete, o truão, divertia-se em pisar-lhe a sombra. De um
lado e de outro, sobre as ervas que cresciam descaradamente entre os calhaus, foi encontrando corpos que dormiam ao calor do sol, num sono de
esquecimento. Achou aquilo acintoso. De passagem, deu um pontapé no traseiro remendado de um saloio; este acordou, abriu olhos piscos, reconheceu o
castelão mas não procurou saudá-lo, como teria feito no ano anterior. Limitou-se a rosnar uma praga e a virar para o outro lado, a fim de reatar o
sonho interrompido.
Mais adiante, tropeçou numa mulher que ressonava na mesma postura. Conheceu-a logo pela galhardia do lenço que lhe envolvia os cabelos de estopa.
Era Bitabita, a cabreira. Tinha o corpanzil estirado sobre as lajes e a cabeça fulva metida numa touça de ervas. O sol batia-lhe nas ancas
volumosas. Os moscardos, como joias que tivessem criado asas e fugido, nadavam-lhe à roda da cabeça, procurando penetrar-lhe nos ouvidos. E ela
dormia à tripa forra.
Novo pontapé. A mulher bufou e com dificuldade conseguiu sentar-se. A princípio, vendo o senhor da Azenha, mostrou-se indignada; depois, seus
olhos claros se inundaram de doçura. E, com a língua de navalha que todos lhe reconheciam, falou:
- Cuidado, senhor meu amo. Estamos num tempo de humildade e resignação. Não queira levar estes pontapés para o Juízo Final...
Ao passar pelo Campo dos Beneditinos, foi-lhe dado assistir a uma cena assaz curiosa: a reconciliação do físico Carnegão, possuidor da única
pílula de antimônio existente no burgo, para alívio dos glutões, e do boticário Basilicão, detentor da única e sinistra gamela em que eram lavados
os defuntos da redondeza.
Os dois velhos andavam de rixa. Não podiam encontrar-se na rua sem trocar doestos de arrepiar cabelo. E, pelas baiúcas, um dizia do outro o que
Mafoma não dissera do toucinho. Mas eis que - segundo a profecia - Deus ia chamá-los a contas. Assustados, sentindo nas carnes o aguilhão do
arrependimento, acabaram por chegar a acordo e, como penitência, convieram em fazer publicamente as pazes. Não queriam entrar pelas portas do céu
arrastando a grilheta de um pecado mortal.
A cerimônia do encontro foi cuidadosamente estudada pelos dois grupos de amigos, até mesmo nas minúcias. Na véspera, fora anunciada por uma récua
de comadres. À hora aprazada, que era aquela, o Campo dos Beneditinos regurgitava. Rabanete, que andava ao par de tudo e conhecia o burgo como a
palma da mão, ia explicando os acontecimentos ao amo. Este, cheio de curiosidade, sentara-se no frade-de-pedra, fincado na esquina, e deixou-se a
contemplar a pantomima.
Entre os espectadores, viu aquela mofina Broa, que já não amassava pão; a Troncha que não plantava couves; o Tarugo, que não consertava goteiras
sobre os telhados; o Sovela que não lambia solas; o Puxavante que não forjava ferraduras nem calçava as mulas dos animais; o Patusco que, na
qualidade de coveiro, everia ser aposentado no dia de São Silvestre, por se haverem acabado os clientes; o Gamonha que, sendo o burgomestre, se
apoiava num bastão cheio de fitas; o Casponio, notário; o Sabença, escrevente, que usava uma pena de pato espetada no rabicho; o Dorna tanoeiro que
tinha uma aduela de menos e, para escândalo da gente morigerada, a Marreca, tida e havida como mexeriqueira, e que, por onde passava, ia metendo um
segredo em cada ouvido.
Lá estavam também o Joio, moleiro: onde parava, deixava o chão branco de farinha; o Afiado, amolador, que havia muito se esquecera do rebolo no
fundo de um beco; o Alminhas, mendigo, que não se dava mais ao trabalho de pintar a chaga da canela sã, nem de envolver os pés em trapos. Já não se
apoiava no bastão, como antigamente; utilizava-o para fazer molinetes no ar, ou nas zanguizarras, quebrar a cabeça dos desafetos. O mais era a ralé
piolhosa, sem nome nem profissão certa, que se dedicava a estranhos serviços, entre os quais o de trabucar à noite, conduzindo barris de imundície
para a alegria das hortas. Toda essa gente apinhava-se na praça, deliciada com a cena.
A casa do boticário ficava ali perto. Era para ela que todos olhavam. A porta e a janela estavam fechadas. O corvo branco a que a população
confiava a limpeza urbana havia-se empoleirado na comeeira, equilibrando-se com dificuldade. Ora erguia uma perna franzina, ora agitava as asas
desajeitadas. Abria o bico para o céu e grasnava. E os garotos calçudos, felpudos, com cabeça de maçã, divertiam-se imensamente com a sua ginástica.
Súbito, um murmúrio pela assistência...
Carnegão apareceu na esquina, montado na mula ruça. E, entre aclamações, o animal se adiantou a passos lentos até a frente da casa do boticário.
Todos puderam verificar que o físico trazia a humildade estampada no pouco que, entre as viçosas barbas, se lhe descobria no semblante. A vinte
passos, escorregou da sela, ajeitou as dobras da capa verdosa, inclinou para trás a cabeça felpuda e caminhou a passos lentos para a casa do
inimigo. Parecia que estava representando de publicano no coice de uma procissão. Então, discretamente, puxou a argola da aldraba. Dentro da casa
fechada, ouviu-se um som de ferro sobre ferro.
Com certeza, o boticário espiava a cena por uma fresta da parede porque, nem bem se ouviu aquele som, a janela se entreabriu e apareceu a sua
venerável calvície. Foi um delírio. Comovido, o homenzinho fechou novamente a janela e, dali a pouco, a porta se escancarou diante da figura
ex-inimiga e ex-odiosa do recém-chegado. Houve um momento de hesitação, para susto do público, até que o boticário abriu os braços e se atirou nos
braços igualmente abertos do físico.
Foi uma cena edificante. Se o mundo não acabasse, como se dizia, na noite de São Silvestre, aquela reconciliação serviria de assunto para as
conversas ao pé do fogo, durante o resto do inverno. Os circunstantes manifestaram aprovação pela mostra pública de humildade e, enquanto o físico e
o boticário conversavam entre si, como velhos amigos, homens e mulheres se foram dispersando. Iam de cabeça baixa, busto inclinado para a frente,
arrastando os pés de chumbo, pesados como a própria vida.
Saindo dali, o castelão resolveu interrogar a quem pudesse informá-lo. E quem melhor poderia fazê-lo do que o santo prior? Seguido pelo Rabanete,
entrou na igreja do mosteiro e se dirigiu à sacristia. Vinha da praça, onde o sol de primavera tirava áscuas das pedras e das poças de água. A nave
pareceu-lhe escura, como breu. Algumas lamparinas espalhadas pelos altares serviam para turvar a vista dos que chegavam de fora.
Por isso, o fidalgo, a meio do caminho, pisou numa coisa volumosa, quente, cheia de grunhidos. Abaixou-se, verificando que era um homem
adormecido. Esse homem era Badalão, o sacrista. Distinguia-se dos demais sacristas por ser terrivelmente vesgo. Andava sempre com um olho na corda
do sino, outro na galheta do altar. Devia ter passado a manhã na convivência desta última, pois ao redor dele havia o odor capitoso das dornas.
O fidalgo passou-lhe por cima do corpo e retomou o caminho. Chegando à sacristia, viu frei Turíbulo absorvido no trabalho. Estava sentado no
escabelo diante da mesa e, com um estilete de osso, procurava raspar conscienciosamente um pergaminho. Ao ver o fidalgo, ergueu-se e veio recebê-lo.
Este inclinou-se e beijou-lhe a mão branca, escusando-se:
- Antes do mais, quero pedir perdão a Vossa Mercê por vir importuná-lo num momento em que parece entregue de corpo e alma ao trabalho...
O frade cruzou as mãos ósseas sobre o peito e inclinou-se.
- Ninharias. Estava a raspar um pergaminhoo pagão. As bambaginas para a escrita estão pela hora da morte. Além disso, são efêmeras, não servem a
assentamentos de circunstância. Por isso, nós, os clérigos, utilizamos as tábuas dos gregos que encontramos pelos arquivos.
- Mesmo as que já foram escritas?
- Também essas. Quando Vossa Mercê entrou, eu estava raspando um poema grego daquele pergaminho. Terminada a raspagem, passo-lhe outra camada de
cera e poderei, na mesma lâmina, em que se encontrava o odioso poema pagão, lançar os assentamentos referentes à nossa horta.
O senhor da Azenha riu. Depois, voltando ao assunto que o preocupava, desembuchou:
- Venho ouvir a opinião de Vossa Mercê sobre a atoarda que por aí vai de que Deus se comprouve em acabar com o nosso pobre e desgraçado mundo, na
noite de São Silvestre...
O religioso ergueu para o céu os olhos de um azul lavado.
- E eu que vos poderei responder? Vivo aqui neste buraco do mundo. Meus superiores nem se lembram da minha existência...
- Mas que se diz a esse respeito, na clerezia?
- Nada, ou pouco mais. O Concilio de Troslyes, realizado há poucos anos não tratou do assunto. É verdade que, nos documentos, consta um apelo
para que os fiéis elevem o coração, pois dentro de pouco terão de prestar contas ao Senhor. Mas essa é a maneira de falar mais corrente entre os
santos varões que lá se reuniram. Por outro lado, Sua Santidade Silvestre II, há pouco escolhido para sucessor de São Pedro, continua a pascer
suavemente o seu rebanho, sem dar mostras de avisado sobre o fim do mundo. Ora, como sabeis, num tal caso, Deus não deixaria de informar ao seu
representante sobre a Terra.
O castelão não se mostrou satisfeito com tais palavras, mas despediu-se contritamente do religioso. Já na porta, voltou-se e perguntou-lhe:
- Mas, afinal, que devo fazer? Aconselhai-me!
E o frade, já absorvido novamente no trabalho, respondeu:
- Ora, proceda como se fosse verdade. Nada terá a perder com as orações, as esmolas e as boas obras que fizer.
No adro, batido pelo sol, pássaros cantavam: as pombas, bêbedas de azul, esvoaçavam sobre as carvalheiras, um bufarinheiro, rodeado de crianças,
fazia sortes com três maçãs e uma navalha aberta. |